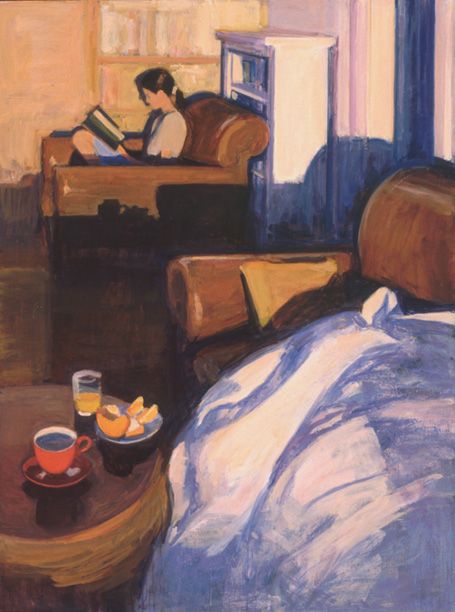Publicado originalmente na extinta Amálgama (24/08/2019) e republicado na Unamuno (09/02/2023)

“Não há consolo maior que o desconsolo, como não há esperança mais criadora que a dos desesperados. Os homens buscam a paz, diz-se. Mas será isso verdade? É como quando se diz que os homens buscam a liberdade. Não, os homens buscam a paz em tempo de guerra e a guerra em tempo de paz; buscam a liberdade quando sujeitos à tirania e buscam a tirania quando vivem a liberdade”.
(Miguel de Unamuno, “A Agonia do Cristianismo”)
Em A Imaginação Liberal, publicado em 1950, o crítico e professor universitário norte-americano Lionel Trilling defende o pensamento de Freud contra as suposições de que ele adotara uma visão simplista sobre a natureza humana, argumentando que o célebre psicanalista revelou o “nó inextricável de cultura e biologia” que define o homem, que carrega “uma espécie de inferno no seu íntimo, do qual surgem os duradouros impulsos que ameaçam sua civilização”.
Por mais questionável que seja atribuir a Freud uma intuição que as grandes tradições religiosas e artísticas já possuíam há séculos, o fato é que sua obra e seus desdobramentos influenciaram a cultura e o imaginário do século XX, trazendo à tona a imagem do homem definido por sua “faculdade de imaginar para si, no campo do prazer e da satisfação, mais do que possivelmente conseguirá ter. Tudo o que ganha, ele paga em uma proporção aumentada; o compromisso e a composição com a derrota constituem sua melhor maneira de lidar com o mundo”, conforme definido por Trilling, que conclui: “Suas [do homem] melhores qualidades são o resultado dessa luta, cujo resultado é trágico”.
Continue Lendo “Não há consolo maior que o desconsolo: “Serotonina”, de Michel Houellebecq”